Parasita Obrigatório, parte de uma conversa entre dois passageiros desconhecidos durante uma viagem de camioneta da aldeia para a cidade. Um dos passageiros sofre de uma retardação mental que é muito visível. Durante a viagem, este confessa-se refém de desejos homoeróticos. O desejo aparece nesta situação como um parasita obrigatório (um organismo parasita que não consegue viver independentemente do seu hospedeiro) que limita a existência - que, neste caso, se encontra já perante adversidades muito óbvias.
O que se deu nesse encontro, nessa conversa, suscita a reflexão de como nos serve a experiência alheia, de como o exemplo dessa experiência também nos pode assaltar como uma infecção.
Texto e instalação visual: André Alves
Leitura: Tiago Jorge

[English version]
Obligatory Parasite is a text and installation created for the gallery O Armário (the closet).
The text Obligatory Parasite describes the encounter between passengers on a bus trip from the countryside to the city and the role of empathy in contemporary life. It talks to multiple situations involving the responsibility of one person regarding the affect of a stranger.
One of the passengers (let’s call him X) suffers from some form of mental retardation and creates discomfort - havoc even - among the passengers of the bus. During the conversation that unfolds between the two passengers, X confesses his homoerotic desires, that he is mocked in school by other kids, but that he can pay (he shows a couple of coins in hand).
The limits of desire, the protocols for manifestation of desire, but also, the normalization of desire become a central part of the conversation, and the focus point of the text. Desire, appears in this situation as a obligatory parasite (a parasite that fully develops inside the host and cannot live without it), fully dominating an existence that in this case, finds already so much adversity.
Text and visual installation: André Alves
Reader: Tiago Jorge


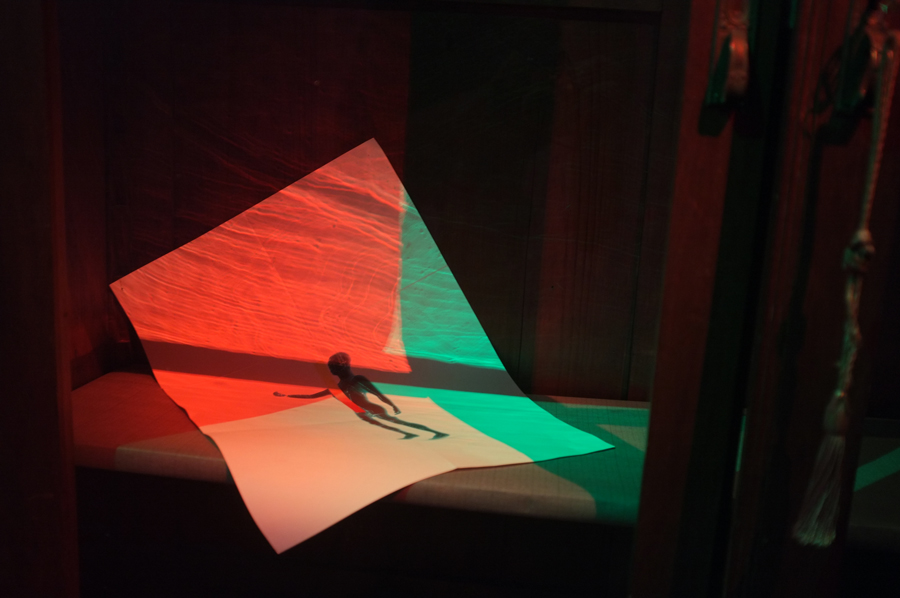
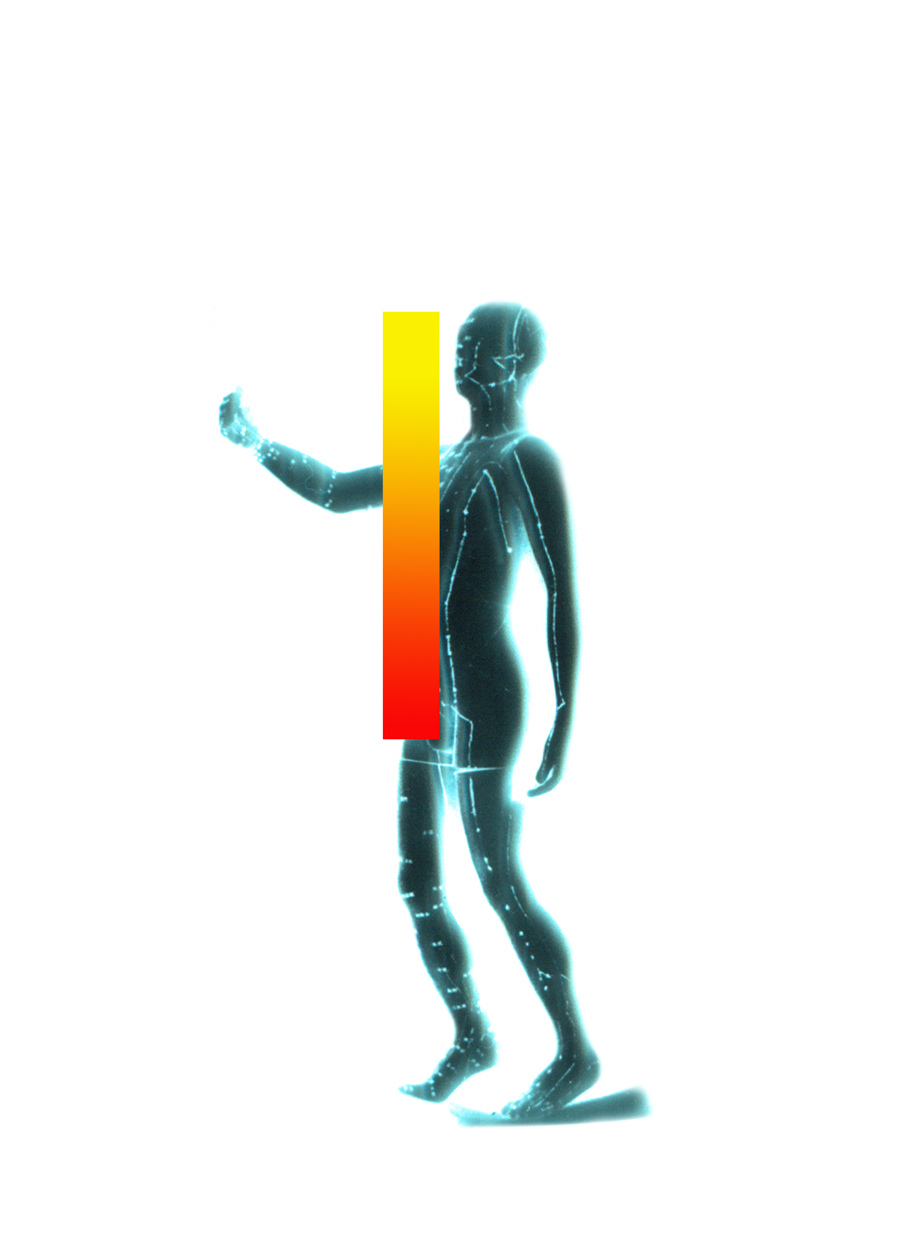




Parasita Obrigatório
O meu olhar atravessava o reflexo quente das janelas da camioneta, e ouvia música.
Estranhei o tique nervoso da mão dela, a pressão de um dedo contra o outro, quando em vez, beliscando a perna. Dois dedos da outra mão seguravam um cigarro e os restantes dedilhavam os dentes. Fumar, nela, parecia feio - o que, somado à aparência, a fazia parecer uma drogadita da cidade. Mas na aldeia, nas rudes combinações de feitios e feições, a incongruente relação entre carne e carapaça é mais pacífica.
Vestia preto. E tinha cabelo preto, comprido, com um toque de grisalho. Irrequietamente hirta e apreensiva. Os olhos atendiam a porta da camioneta. Demasiado magra. E aquele bronzeado - talvez resultando do trabalho ao ar livre.
Pensei na possibilidade de haver uma estética do precário. Claro que sim. Aquelas gamas de preto gasto, azul marinho, castanho e cinzentos escuros que se repetem em diferentes lugares deste mundo, lugares de terra batida e cheiro a cimento frio e cantigas de sotaques torpes.
Ela olha para a porta mas não entra - deve ter trazido alguém até à camioneta. É normal, talvez um velhinho de que se ocupa. Há demasiada gente velha nestas bandas. A mim, a velhice nunca me apanhará.
Ah, afinal era aquele rapaz - nunca o vi. Às tantas os dois são de fora. É um bocado taralhouco, o miúdo. Senta-te pá, que ainda cais. Pronto, já vai chatear aquela velhota. Que sorte a dela.
Este olhar para trás… Anda à procura do assento certo. E não é que vai mudar de sítio de novo?! Ainda cai em cima da velhota.
Às vezes também sinto dificuldade em escolher o melhor sítio para sentar.
Vem aqui para trás.
“Posso?”
Retiro um dos auscultadores e acenando a cabeça digo
“Sim.”
E olho a transparência da sua perturbação interior. Volto a colocar o auscultador e olho em frente.
“Boa tarde,” diz no seu sotaque de A arrastado.
“Boa tarde,” digo eu, olhando em frente, sem me mexer.
Exala um hálito acre, seco, aquele cheiro bafiento dos doentes do fígado.
“Está tudo óptimo?”
O meu avô usava óptimo em vez de bem; sempre melhor do que já se está e não apenas melhor do que mau.
“Está tudo óptimo.”
Há um atraso na forma como fala que se torna mais evidente pelo espaço que forço entre as nossas falas. A imagem da retardação mental detecta-se a milhas. Aquela lentidão da linguagem congelada no cérebro. Que miséria. Ele olha-me e os óculos de sol escudam-me. E eu hirto e irrequieto, voltado para a frente e olho na diagonal.
Ofereço-lhe mais silêncio e a frustração. Ele levanta-se, iniciando novamente o ritual de busca do lugar perfeito. E lança-se a outro passageiro, deixando-me a barriga a doer. Estou tão perturbado. Estão a conversar. Aquele rapaz não lhe rejeitou atenção. Ele é refém da solidão e procura repará-la. E tu, defensivo da exclusividade do espaço íntimo da tua viagem.
Mas aconteceu alguma coisa. Pararam de falar. Alguma coisa se deve ter passado. O outro rapaz já só olha em frente! Olhar em frente torna tudo mais invisível. E permanecer hirto camufla o visível. Aconteceu algo sim. Levantou-se outra vez. Ainda cai. O motorista também já não tira os olhos dele no retrovisor. E não lhe diz nada. O pânico é silencioso. Ainda vamos ter um acidente. Isto é absurdo. Completamente absurdo.
De que padecerá esta criatura? Uma demência que acentua a procura sôfrega de qualquer coisa? Também descrevemos a curiosidade assim. Mas há ali uma solidão, não há? A curiosidade não procura diálogo, apenas proximidade. E ele aproxima-se sem freio e afasta-nos com esse despudor. E assim somos trazidos à loucura do louco.
Vem aí outra vez. Devia ter colocado a mochila no banco.
“Está tudo óptimo?”
“Está tudo bem.”
Sou refém dele, dos grunhidos e do hálito fétido. Não há como evitar a perturbação.
E as cabeças atentas ao nosso redor.
Senta-se. Acalma-se. E soltando uns pequenos grunhidos diz.
“Os outros meninos fazem pouco de mim na escola.”
Sinto uma picada profunda. Olho para ele. Não é menino mas é-o. E reajo à injustiça exercida contra ele e a que eu próprio projectei sobre ele. O exemplo da sua vulnerabilidade é infeccioso. Uma infecção que não consegue viver fora do hospedeiro, indefeso e violentado pelo seu desejo. E o meu olhar, refém, encontra nele bravura e carência. Ele vai falar; tanto faz a quem o dá. Por agora serei eu.
Aquela mulher era a tua mãe. Uma mãe que se belisca para se trazer ao real, afastar-se da tua fragilidade e do terror da sua incapacidade para te proteger. Siderada na sua dor, dupla, de ter gerado a dor e a não poder curar.
“E porque fazem pouco eles de ti?”
Monstros; somos monstros, prazerosos na facilidade do embrutecimento. O tolinho da aldeia desperta o poder da violência.
E diz, “Eu queria ter relações sexuais com outros meninos”
E um novo abismo se forma em mim. Ele fala lentamente e o meu escutar é ainda mais lento, num misto de embaraço e piedade e admiração e reflexo. Entre nós não existe mais espaço. A única ofensa à nossa unidade é a húmida e quente lembrança do meu próprio passado danificado, a dor de desejo que não se cumprira, a violência dos outros meninos exercida sobre a minha expectativa e marcada na minha carne. E tu, nessa inocência danificada e torpe, um adubo de humanidade.
As cabeças em volta agitam-se. A camioneta suburbana transformada em expiação com plateia. Uma cena atenta ao meu desempenho, de refém ou associado.
E ele volta-se para mim, com um olhar que vê para lá da carcaça, para ver como o vejo. E agora vejo-o, no tempo, quando se submeteu ao canto do desejo que preencheu todo o seu silêncio.
“Tenho 20 anos. E posso pagar” diz-me, enquanto estende um par de moedas nas mãos. E nem sabe que isto é dinheiro que não basta, que o desejo cobra sempre alto.
“Não podes oferecer dinheiro às pessoas para ter prazer. Isso é ilegal.” Mas queria dizer-lhe que não podes comprar o prazer de qualquer um, que o engano custa pele e segurança. Que o desejo é quem nos vende e quase sempre a mau preço.
A camioneta corre num cenário de orelhas na porta; avança e a paisagem avança. A conversa avança. Mas todos nós ficamos para trás, consumidos pela nossa própria história. O tempo corre e estende a nossa suspensão. És frágil, rompido por defeito ou acaso. E nós seguimos pela paisagem, congelados, fixos, como estátuas no movimento da multidão. E tu, livre do tempo e da corrida da paisagem, viajas na sede do teu desejo pela carne alheia.
Pergunto-me o que são olhos esperançosos quando me perguntas “Onde vais?” É um olhar que soube ter sido cuidado e dado atenção. E eu vou até à última paragem. E desperto quando me dizes “vou sair ali” e te levantas, agitado, não à procura do lugar perfeito, mas da saída, levando os grunhidos improvisados e odor amarelo.
A camioneta assinala a marcha. Encontro o olhar dele na rua, lambendo as janelas da camioneta com olhos de lua, à minha procura, perdido e encontrando-se. E eu esvaziado deixei de estar no espaço. E os seus olhos estão cheios. E penso na sombra, no amasso e violência que se lhe oferecem e que não saberá antecipar. E nisso não vejo novidade histórica, apenas repetição. Desperto para esse horror.
A minha mão belisca a perna.